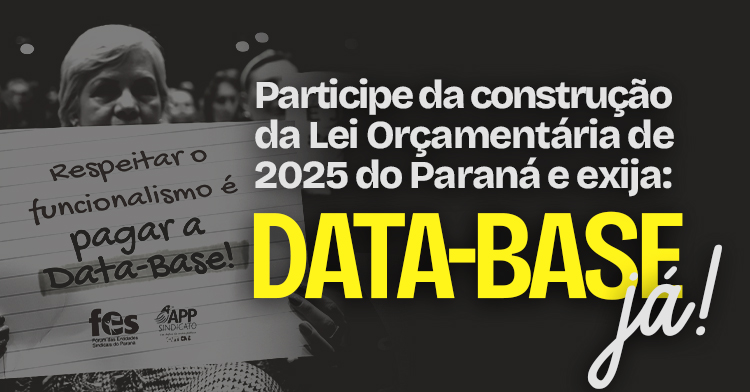Quatro anos depois, 12 policiais acusados de matar nove jovens durante uma operação contra o baile funk da DZ7, na favela de Paraisópolis, em 1º de dezembro de 2019, ainda não foram a julgamento
Carrregando placas de ruas, fotos e cartazes com os nomes dos nove jovens mortos por uma ação da Polícia Militar durante a repressão ao baile funk da DZ7, na favela de Paraisópolis, familiares, amigos e ativistas protestaram na Avenida Paulista, na região central da capital paulista, nesta sexta-feira (1º/12), data que marca os quatro anos do massacre. Doze policiais foram denunciados pelo crime, mas ainda aguardam julgamento.

“Eu vivo todos os dias da minha vida, desde que isso aconteceu com a minha família, na luta incansável por provar a verdade, para punir esses assassinos. E não é por vingança, é pelo simples fato de que a gente provas o suficiente de que eles agiram, sim, com a intenção de matar os nossos filhos”, disse, no início do protesto, Maria Cristina Quirino, 44 anos, mãe de Denys Henrique, morto aos 16 no massacre, e pesquisadora bolsista da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), enquanto segurava uma placa de rua com o nome do filho.

Dos 31 policiais que participaram do cerco ao baile na época, 12 foram acusados por homicídio qualificado por dolo eventual (quando se assume o risco de matar) e um por explosão. De acordo com o Ministério Público, os policiais conheciam o local, por ser a área de patrulhamento, e “agiram pela torpe motivação de causar tumulto, pânico e sofrimento, em abusiva demonstração de poder e prepotência contra a população que estavam em evento cultural”.
Os 12 réus aguardam em liberdade a segunda audiência do caso, prevista para 18 de dezembro, uma vez que a primeira, ocorrida em julho, não deu conta de ouvir um total de 52 testemunhas (somadas as de defesa, as de acusação e as que são comuns às partes). Ao final desse período, chamado de fase de instrução, em que são ouvidas testemunhas e acusados e reunidas provas, o Judiciário decide se os policiais irão ou não a júri popular.
O protesto saiu do Museu de Arte de São Paulo (Masp), por volta de 19h, e caminhou até a Praça do Ciclista. Antes da saída, policiais militares apreenderam um carro de som que carregava o paredão (equipamento de som) do baile da DZ7, alegando que os pneus do veículo estavam “carecas”. O carro foi multado e levado para um pátio em Caieiras (Grande SP), a 30 quilômetros dali.

Após soltar bexigas brancas, o ato se encerrou às 21h. No encerramento, uma centena de pessoas ávidas de justiça permaneceu em silêncio, ao longo de um minuto, na principal avenida do País, num gesto mudo de respeito e revolta.
Mulheres em luta
Pela manhã, as reivindicações do movimento de familiares das vítimas do Massacre de Paraisópolis também se fez presente durante uma roda de conversa com mulheres retratadas na exposição Mulheres em Luta! Arquivos de Memória Política, que resgata as jornadas de luta política pela perspectiva de gênero desde a ditadura civil-militar (1964-1985), no Memorial da Resistência, no bairro da Luz, na região central. A mostra se baseia no acervo de história oral do Memorial, reunido no programa Coleta Regular de Testemunhos, com depoimentos de mulheres que sofreram com a violência de Estado na ditadura e no período democrático.

Dentre elas, estava Maria Cristina Quirino Portugal. Muito emocionada, ela lembrou que a periferia nunca teve acesso à democracia de fato. “Foi essa democracia que matou meu filho, é assim que eu entendo a democracia hoje e não consigo enxergar de outra forma. Para mim, até hoje, não teve mudança”, declarou.
Integrante do Clube de Mães da Zona Sul, Ana Dias lembrou como foi culpabilizada pelo assassinato do seu companheiro, o operário Santos Dias, morto por policiais militares com um tiro nas costas em 1979. “Tentaram calar minha voz. Muita gente, não gente de fora, mas meus pais, meus irmãos, minha família, me chamavam de louca e de culpada. Porque se ele foi assassinado, a culpa não foi da ditadura nem dos militares, foi da mulher. Quando comecei o trabalho na periferia, tinham muitas que eram analfabetam e muitas que tinham medo do marido, mas o perigo não é ter medo do marido, é quando se perde o medo porque a mulher, quando percebe que não é mandada, conduz a luta”, contou.
A ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres durante o governo de Dilma Rousseff, Eleonora Menicucci, lembrou das torturas e violências vividas no período em que foi presa política e como a impunidade aos militares catapultou entusiastas da ditadura, como ex-presidente Jair Bolsonaro, ao poder. “Muitas vezes eu quis morrer lá na cadeia, mas o orgulho que eu tenho de ter resistido para poder ser uma das vozes que ainda não morreu e que conta sobre aquele período tem reflexo em todas essas histórias que serão contadas aqui. Ainda não passamos a limpo a ditadura militar”, criticou.
“Nós não punimos os torturadores. A anistia foi ampla, geral e irrestrita. A anistia não foi só para nós, torturados, a anistia foi para os torturadores. E hoje as delegacias estão cheias de torturadores. Nós tivemos torturador presidente da República ao dar voto pelo golpe contra uma mulher digna, íntegra e honesta que é a Dilma Rousseff, em homenagem ao ‘pavor de Dilma Rousseff’, que é o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra”, em referência ao voto de Bolsonaro, quando era deputado federal, em 2016, pelo impeachment da presidenta.
De outro lado, a ativista independente pelos direitos das pessoas negras LGBTQIAP+ Neon Cunha ressaltou que às mulheres trans e travestis nunca foi dado o direito de ter as identidades reconhecidas e serem vistas com humanidade. “Eu sempre quis ser mãe, mas o Estado não me deixou ser mãe. Não precisava gestar, só precisava adotar. Mas o que uma mulher negra e trans vai querer com uma criança num país desse que vai humilhar, maltratar, desprezar, vilipendiar? Vão dizer ‘tu nem é mulher de verdade’, ‘tua mãe nem é gente para ter filho’. O que a gente faz com a infância de uma criança que eles não querem que exista?”, disse. “Dentre os meus maiores compromissos de responsabilidade é que o futuro seja uma menina negra correndo livre, seja ela cis ou trans”.

O ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida, que abriu o evento, destacou a importância de espaços como o Memorial, que foi criado há 15 anos onde funcionava o antigo Departamento de Ordem Política e Social (Deops), centro de repressão e tortura da ditadura em São Paulo. “Falar de memória, falar de verdade, falar de justiça é falar também daquilo que a gente não quer mais ser. Então, políticas de não repetição. Memoriais são fundamentais em um país como o nosso”, disse.
Ele apontou que o país, sendo forjado pelo racismo, pela dependência econômica e pelo autoritarismo, não tem espaços de cultivo à memória para discutir essas questões. “A gente não pode desvincular a escravidão da ditadura militar e das torturas que acontecem todo o dia e o que aconteceu, por exemplo, em Paraisópolis. Por isso que os espaços de memória são fundamentais para que a gente possa partir desse processo de ressignificação do passado que ainda é presente, entender o nosso mundo e projetar no futuro o que a gente quer e o que a gente não quer mais. Memoriais são fundamentais para qualquer política de direitos humanos”, disse. “Não se constrói um país, não se constrói uma nação sem memória”.
Fonte: Ponte Jornalismo